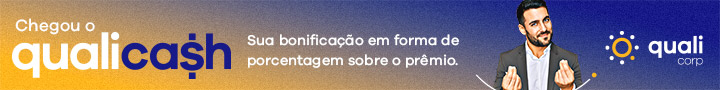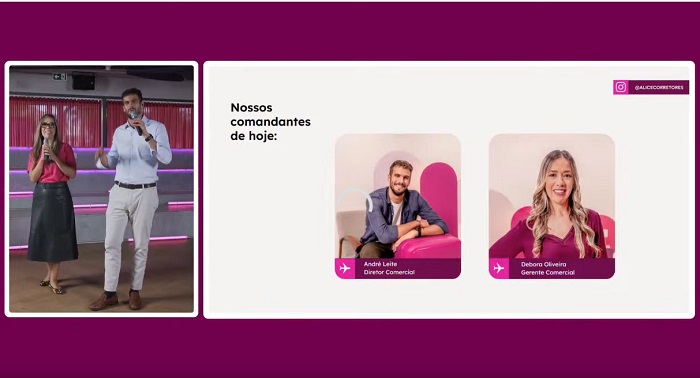Do Uol – em 27/06/2018
Quais dos reajustes dos planos de saúde mais se sustentam? Os 5,72% baseados no IPCA-Saúde ou os 10% da ANS em 2018? Ou ainda os índices das operadoras nos planos coletivos, que na média giram em torno de 20%? Não se sabe, pelo simples fato de que não existe um índice oficial que reflita realisticamente o custo da saúde no Brasil.
Somente a partir dessa informação —suficientemente confiável, com metodologias e ampla base de dados tecnicamente sustentáveis, checados e validados por uma instituição de inconteste especificidade e reputação, em conjunto com a ANS e o mercado, e claro, com total transparência— é que poderemos, enfim, discutir novos caminhos para que os reajustes sejam justos a todos.
Há uma lógica antiga no mercado, oriunda da era inflacionária, que é o simples repasse dos custos aos consumidores finais, a despeito da real capacidade de gestão interna de cada empresa. Mas a injustiça reside no fato de essa prática ignorar a real capacidade do consumidor de suportar tais reajustes.
Aos olhos — e no bolso — do cliente, que é quem no final paga essa conta toda e cuja renda nem de longe acompanha a escalada de aumento dos planos de saúde nos últimos anos, essa lógica tornou-se ilógica, já deixando de ser dolorida para ser hoje excludente. O drama é que isso se tornou uma novela, cujos capítulos se repetem há anos, sem nenhuma novidade num mundo que se renova quase que diariamente.
Essa "lógica" ficou tão perversa a ponto de inverter um princípio econômico básico, no qual a coletividade teria maior capacidade de barganha do que uma pessoa física isolada, cujo poder é quase zero.
Contudo, os reajustes coletivos nos últimos anos têm sido, em média, superiores aos individuais autorizados pela ANS —segundo as operadoras, são índices insuficientes à reposição dos seus custos, razão pela qual se explicaria a escassez dos produtos individuais no mercado.
Na contramão dessa discussão, não faltam discursos imediatistas e "milagrosos" pedindo mais regulação (da ANS) sobre as operadoras —e só sobre elas, esquecendo-se dos demais atores que compõem e impactam diretamente a cadeia econômica da saúde suplementar.
Estes também deveriam estar nesse bolo, mas ainda passam despercebidos, quais sejam: prestadores médicos em geral (clínicas, hospitais, laboratórios), fornecedores de materiais e de medicamentos, de próteses e órteses, etc.
Para a grande maioria deles, saúde também é um negócio, porém livre de qualquer regulação econômica.
Ora, se regulação por si só fosse a solução, já teríamos o melhor sistema de saúde privada do mundo, pois desde a criação da Lei 9.656/98 até hoje já foram editadas cerca de 3.000 diferentes tipos de atos normativos reguladores, fora os aproximados R$ 4 bilhões em multas já aplicadas.
Isso tudo, pelo visto, não tem sido eficaz na sustentabilidade de um sistema que atende hoje cerca de 47 milhões de brasileiros, com um faturamento bruto projetado em R$ 200 bilhões para 2018, mas que, paradoxalmente, vive uma das suas piores crises desde 1998.
Não existe mercado sem empresas e consumidores, ambos satisfeitos, dentro de políticas sustentáveis de livre mercado, com o Estado fazendo macrorregulações; mas, do jeito que as coisas vão, não vão –ou vão mal. Faltam diálogo e resposta às perguntas: qual é o custo da saúde no Brasil? Quanto é justo os planos cobrarem das pessoas? O que os planos e as pessoas devem cobrar do Estado? Precisamos dessas respostas para que os planos cobrem o justo das pessoas e as pessoas cobrem o justo dos planos.
José Seripieri Junior
Empresário, fundador e presidente do Grupo Qualicorp, administradora e corretora de planos coletivos